Observatório do audiovisual potiguar
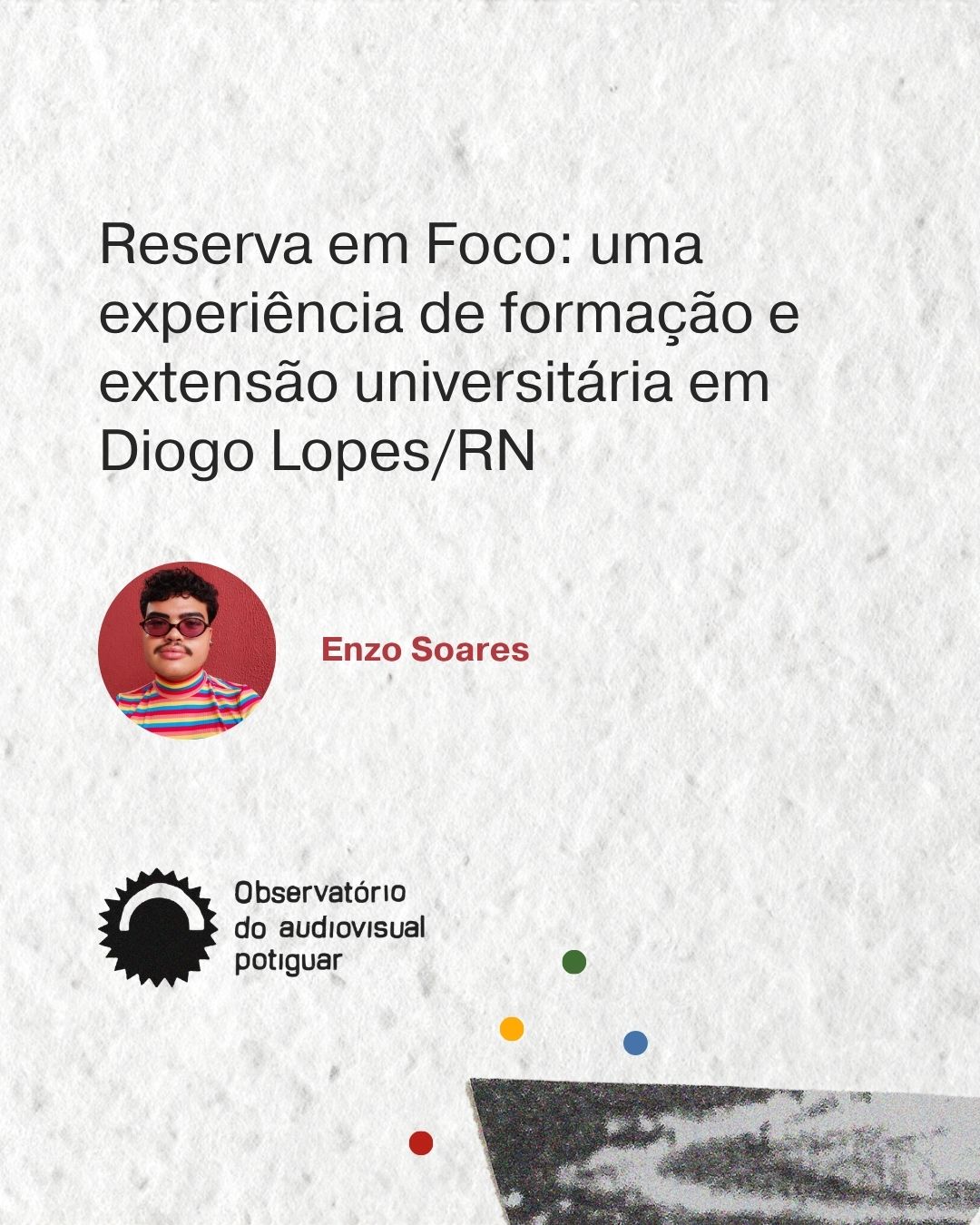
As crianças são, por natureza, pequenas investigadoras do mundo. Seus questionamentos: “Por que o céu é azul?”, “Por que aqui é quente?”, “Por que ele fez isso?”, são mais do que simples dúvidas; são manifestações do desejo de entender a realidade, de dar sentido às experiências que vivem. As respostas que recebemos a esses questionamentos, nos ajudam a formar uma ideia sobre o mundo.
Neste lugar das respostas, as imagens podem figurar um grande poder, pois a elas atribuem-se não apenas sentidos, mas também exemplos daquilo que falamos. A imagem está diretamente ligada à forma como o ser humano percebe, interpreta e representa o mundo. Não é atoa que os livros infantis são recheados de imagens. O olhar e a percepção são as portas pelas quais o mundo se apresenta a nós, e ao oferecer às crianças a possibilidade de registrar o mundo por meio da fotografia, abrimos uma via para que elas possam expressar sua visão particular e sensível da realidade. É exatamente no reconhecimento da imagem como linguagem e ferramenta de leitura do mundo que a educação encontra um vasto campo de exploração.
A conexão entre cinema, fotografia e educação vem sendo objeto de estudos e práticas que destacam o potencial dessas linguagens para a formação crítica e estética dos sujeitos. Existe um campo de estudos que tem sido nomeado “Cinema e Educação”, que segundo Liana Lobo Baptista:
[…] tem se organizado e se fortalecido principalmente no diálogo entre pesquisadores vinculados a universidades públicas – em programas de Educação, Cinema, Artes, ou Comunicação – com professores das diversas áreas da educação básica, com coletivos e com projetos diversos que atuam diretamente em suas comunidades (Baptista, 2023, p. 13).
O cinema, quando integrado aos processos educativos, abre espaço para outras formas de perceber, narrar e problematizar o mundo, favorecendo a construção de olhares mais sensíveis e críticos. Ao entrar em diálogo com a educação, ele não se limita a ilustrar conteúdos, mas propõe experiências que mobilizam emoções, memória e imaginação, elementos essenciais para uma aprendizagem significativa. Como destaca Adriana Fresquet, “a tela de cinema (ou do visor da câmera) se instaura como uma nova forma de membrana para permear um outro modo de comunicação com o outro (com a alteridade do mundo, das pessoas, das coisas, dos sistemas) e com o si próprio” (Fresquet, 2013, p. 19). Assim, o cinema possibilita ao sujeito transitar entre o mundo exterior e o interior, abrindo caminhos para o autoconhecimento e a escuta do outro, dimensões fundamentais no processo educativo.
Minha primeira aproximação consciente com as discussões sobre esse tema foi na disciplina “Cinema e Educação”, do curso de Comunicação Social – Audiovisual da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Em uma das discussões provocadas durante uma aula sobre a Lei nº 13.006/2014, que prevê a exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica, uma aluna da disciplina questionou: “O que podemos fazer, com o que já está dado na realidade, para transformá-la?”. Essa pergunta me marcou e me acompanhou durante alguns dias. Naquele contexto, falávamos das dificuldades encontradas quando analisamos a execução da Lei observando as diferentes territorialidades e realidades do Brasil.
Nosso intuito, assim como prevê Cezar Migliorin e Isaac Pipano, é pensar uma proposta audiovisual que busque “um relacionar-se com o mundo que mais interroga, vê e ouve, do que explica” (Migliorin; Pipano, 2018, p. 39). Outro questionamento vem agora, o que pode a imagem na mão das crianças?

O método nos faz navegar
Falando ainda na disciplina, a atividade de encerramento da mesma, era a produção de um projeto que trabalhasse Cinema e Educação em suas diversas perspectivas. Em parceria com Cecília Melo e Laís Ralline, escrevemos o “Reserva em Foco: conectando saberes”, que tinha como objetivo promover a prática da fotografia entre crianças do 5º ano do ensino fundamental da Escola Municipal em Tempo Integral José Ribeiro da Costa, localizada no distrito de Diogo Lopes, em Macau/RN. A cidade faz parte da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão (RDSEPT). O nome “Reserva em Foco” surge da intenção de colocar em evidência os olhares das crianças sob esse território que habitam tão rico em saberes e belezas naturais.

Propomos a aproximação com as crianças e seu território, por meio de provocações aos alunos a partir da ideia de “feio” e “belo” na perspectiva de cada um deles, com o recorte do meio ambiente. A provocação central é fazê-los pensar sobre o que eles acham bonito e feio no lugar onde moram, criando as próprias conclusões sobre essa questão. Estamos pensando na perspectiva do território porque ele faz parte da vida de todos os seres humanos, e com isso buscamos auxiliar no processo de valorização das suas existências e de seu território o qual não é apenas um espaço físico ocupado, mas o resultado de relações sociais, culturais e políticas que configuram e dão significado ao espaço.
Para trabalharmos a técnica da fotografia, além de ensinarmos os elementos básicos de como usar a câmera, utilizamos o dispositivo das molduras que trabalha justamente aquilo que mais queríamos com o ensino da fotografia: o que olhar? Disponibilizamos papéis, canetas, lápis de cor, giz de cera, cola e tesoura para que eles criassem suas próprias molduras, para que trabalhássemos com eles os enquadramentos das imagens possíveis:
O dispositivo visa colocar o estudante em uma situação na qual ele pode definir o que deve ser visto na imagem e o que deve ficar fora de quadro. Trata-se de exercitar enquadramentos, pois o nosso olhar e nossos modos de ver são sempre parciais e localizados, recortes do mundo (Migliorin, et al, 2016, p. 34).
Dessa forma, o projeto se baseia na pedagogia da escuta, na valorização dos saberes locais e na troca entre universidade e comunidade. Para Elba Pereira dos Santos (2012), essa pedagogia é voltada a valorização e atenção à expressão infantil, pois “é fundamental ver e ouvir. Observar, construir o olhar, captar e procurar entender, reeducar o olho ao não dito, valorizar a narrativa, entender a história” (Santos, 2012, p. 6). Ao final da oficina, realizamos uma exposição fotográfica aberta à escola, bem como à comunidade, reunindo as imagens capturadas pelos próprios alunos durante a oficina. A mostra foi organizada a partir do olhar das crianças, já que a curadoria foi feita com e pelos alunos, eles que elencaram suas visões de mundo, afetos e questionamentos sobre a região.
Nesse contexto, destaca-se a importância de uma atuação colaborativa com a escola, a partir da articulação com os saberes locais, que possibilita uma confluência de conhecimentos e potencializa os impactos do projeto. Além disso, reconhece-se a centralidade da Reserva de Desenvolvimento Sustentável para a vida da comunidade envolvida, reafirmando a importância de iniciativas que fortaleçam sua preservação e valorização por meio da escuta e da expressão coletiva.
Aprender com o olhar: o fazer da oficina
A partir dos diálogos entre Cecília Melo (Oficineira), Arlete Oliveira (Servidora da Sala de Leitura e Multimídia) e Francisca Cavalcante (Coordenadora da Escola), é que foi possível a execução do projeto. Para sua realização, fizemos algumas alterações, principalmente, no que dizia respeito às aproximações pedagógicas com as crianças e ganhamos um 5º elemento: Ester Costa, estudante de jornalismo.

A oficina foi estruturada em três etapas, durante os dias 19 e 20 de setembro. A primeira consistiu em uma aproximação com as crianças ao tema “Belo versus Feio”, abordando também noções básicas de composição fotográfica, o uso da câmera e a construção coletiva do dispositivo das molduras. Na segunda etapa, realizou-se uma caminhada fotográfica em grupos: cada oficineiro acompanhou uma equipe de cinco crianças, nas quais cada participante teve dois minutos para fazer suas fotos. Em seguida, foi realizada uma curadoria individual, na qual cada criança escolheu duas imagens – uma representando o que considerava “belo” e a outra, o que julgava “feio”. Por fim, a terceira etapa envolveu a organização e montagem da exposição com as fotos selecionadas por cada aluno. A mostra foi instalada em um mural no pátio da escola e permaneceu disponível para visitação até o aniversário da escola.
Nosso maior desafio, naquele momento, era com nós mesmos, oficineiros. Estar diante das crianças, ali naquele território cheio de histórias, afetos e potências, exigia mais do que domínio técnico ou domínio de um conteúdo, exigia presença, escuta e disposição para se deslocar de tudo que já sabíamos. Já estávamos despidos da ideia de que havíamos chegado para ensinar, tínhamos assumido que estávamos ali também, e talvez principalmente, para aprender.
A prática nos confrontou com nossas próprias certezas sobre o que é ensinar e o que é educar. Percebemos que conduzir uma oficina como essa não era seguir um roteiro fechado, mas aprender a improvisar com responsabilidade, criar caminhos a partir das crianças, dos seus tempos e da sua curiosidade. Como diz Paulo Freire (1996, p. 18), “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”. E esse respeito não é teórico: ele se manifesta no modo como se escuta uma pergunta, como se acolhe uma imagem, como se valida um olhar.
Foi nesse processo que também nos aproximamos da ideia de Alain Bergala (2008), de que a mediação pedagógica com as imagens deve abrir possibilidades, e não reduzir experiências a fórmulas. A câmera, para nós, não era um instrumento para obter “boas fotos”, mas um meio pelo qual cada criança poderia investigar o mundo ao seu redor, e nos mostrar o que talvez não víamos. Mas para que isso acontecesse, nós, oficineiros, precisávamos aprender a olhar com elas, e não por elas. Dessa maneira, o verdadeiro método que nos guiava não estava apenas no plano elaborado ou no cronograma previsto no projeto, mas na nossa capacidade de nos deixar afetar, de nos mover junto com as crianças e de reconhecer que nossa formação também estava acontecendo ali, naquelas trocas, nos silêncios, nos sorrisos tímidos que revelavam mundos inteiros.

Ao pensar o desenho metodológico da oficina Reserva em Foco, sabíamos que não se tratava apenas de ensinar as crianças a “usar uma câmera”, mas de abrir espaço para que o gesto fotográfico fosse vivido como forma de expressão pessoal. Nesse sentido, a inserção da imagem nas escolas não deve seguir uma lógica instrumental, nem se limitar ao ensino técnico, mas deve ser pensada como uma experiência estética e formadora de sensibilidade (Bergala, 2008). É justamente essa perspectiva que guiou nossas decisões metodológicas, desde a liberdade que demos às crianças para escolher seus temas e ângulos, até a escuta atenta de suas intenções e narrativas por trás das imagens.
“O cinema deve entrar na escola como exceção, e não como regra” (Bergala, 2008, p. 45), escreve ele, apontando que a experiência estética precisa fugir da padronização curricular para encontrar um lugar onde a criação possa emergir. Entendemos que a fotografia, assim como o cinema, não deveria ocupar o lugar de mais um conteúdo a ser “aplicado”, mas de um convite ao olhar e à invenção, partindo da realidade sensível das crianças de Diogo Lopes.
Inspirados por essa abordagem, criamos uma oficina onde o processo era mais importante que o produto. Estimulamos a curiosidade, o jogo, a improvisação. A câmera foi apresentada como uma ferramenta de investigação do cotidiano. Assim, cada fotografia tornou-se não apenas um registro, mas um exercício de autoria, ou, como diria Bergala, um espaço onde as crianças puderam “constituir uma relação íntima com as imagens” (Bergala, 2008, p. 37).
A entrega da câmera às crianças foi, simbolicamente, um gesto de transferência de poder. Um poder de narrar, de escolher o que mostrar, como mostrar e o que esconder. Como diz bell hooks, criar espaços seguros para a expressão livre é uma forma de subverter estruturas tradicionais de poder na educação: “A pedagogia engajada necessariamente valoriza a expressão do aluno” (hooks, 2013, p. 35). Nesse sentido, a fotografia foi não apenas uma linguagem, mas uma ferramenta de autonomia e auto-representação.
Ao longo da experiência da oficina Reserva em Foco, a convivência com as crianças nos trouxe muitas perguntas, sobretudo, como não bloquear a potência criativa e investigativa que elas já carregam consigo. Ao invés de entregar respostas prontas, procuramos criar situações em que as crianças explorassem, descobrissem, criassem. As imagens nasceram de situações simples e do cotidiano de suas vidas. Nosso papel foi acompanhar esse processo com acolhimento, e não com censura ou correção. Se saia uma foto tremida, torta, ou até mesmo desfocada, não buscamos repreender as crianças, ou dizer que estava errado, mas mostrar a elas que poderiam fazer diferente, ou mesmo enxergar beleza naquilo que não é lido como normativo.
A beleza das imagens produzidas pelas crianças não estava na técnica, mas na forma como elas traduziam suas percepções do mundo, seja ao registrar a areia, o braço de mar, o sorriso de um colega, ou o próprio espaço da escola. Viver essa experiência foi reconhecer, na prática, a proposta freireana de uma pedagogia que emancipa, que constrói junto e que parte do princípio de que todos somos capazes de aprender, inclusive nós, que ali estávamos como oficineiros. Como nos lembra Freire: “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (Freire, 1987, p. 39). Foi exatamente essa comunhão que buscamos viver e construir.
Cada criança, ao mirar pela lente da câmera, fez uma escolha sobre o que ver, o que mostrar, o que deixar de fora. A fotografia nos revelou tanto o território quanto os afetos ali contidos. Em vez de um olhar turístico ou de fora, as crianças enquadraram a partir de dentro, com intimidade. “O que enxergar?” Pergunta que se repetia em silêncio cada vez que a câmera era levantada. Não era apenas a paisagem que estava em foco, mas suas relações com ela, sua memória, sua presença.
Ao chamarmos o projeto de Reserva em Foco, intuímos essa intenção: não apenas focar a reserva enquanto lugar físico, mas trazer à tona os olhares de quem a habita, de quem a sente, e de quem a transforma todos os dias com sua presença. Foi através do enquadramento que elas mesmas definiram, que o território se reconfigurou naquele instante.
Travessias e retornos
A oficina nasceu dentro da universidade, mas se realizou fora dela, no território, nos encontros, nos afetos. Essa partida, no entanto, não foi apenas geográfica. Quando uma ação de extensão sai dos muros da universidade, ela leva mais do que conhecimento, leva escuta, leva perguntas, leva disposição para o novo. No contato com as crianças da comunidade de Diogo Lopes, fomos percebendo que não estávamos ali apenas para ensinar fotografia, mas também para aprender a olhar, com mais atenção, com mais cuidado.
Por isso, partir foi também voltar. Voltar à universidade com outro olhar sobre o que é comunicar, sobre o que são as relações com a sociedade, sobre qual o papel da nossa formação. E, talvez, as crianças também tenham voltado para suas casas com um olhar novo sobre si, sobre sua comunidade, sobre o mundo.
Sair dos muros da universidade em direção a outros territórios não significa apenas deslocamento físico. Ao levarmos um projeto de extensão a um território como Diogo Lopes, estávamos também movimentando saberes, atravessando fronteiras simbólicas e nos permitindo ser afetados. Essa é uma das maiores potências da extensão universitária, ela não se resume à ideia de “levar o saber acadêmico”, mas se realiza plenamente quando há troca, escuta e transformação mútua. Confluir.
A proposta da oficina Reserva em Foco foi fruto das inquietações geradas pela disciplina Cinema e Educação, e encontrou seu sentido mais profundo fora desse ambiente, no encontro com as crianças, nos seus olhares e seus contextos. Nesse movimento, aprendemos que a universidade que se abre ao território não sai para ensinar, ela sai para aprender, para descolonizar o saber, para abrir-se à pluralidade de experiências e formas de ver o mundo. Confluir.
Neste sentido, uma ação de extensão como essa não deve enxergar os sujeitos das comunidades como simples receptores, mas como produtores de conhecimento legítimos. Dessa forma, as crianças da escola em Diogo Lopes não foram apenas aprendizes da linguagem fotográfica, foram nossas coautoras do projeto.
Ao voltarmos para a universidade depois da oficina, não voltamos os mesmos. A experiência ampliou nosso olhar, questionou nossos métodos e reafirmou que a educação é um ato de amor, de escuta, de resistência e transformação. Extensão é isso: partir para voltar transformado. Esses espaços são necessários para nos dar a possibilidade de olhar para o mundo com outras lentes. Literal e simbolicamente.
Desaguar
Ao longo da oficina, compreendemos que transgredir, no contexto da educação, não era quebrar regras por rebeldia, mas romper com lógicas autoritárias, hierárquicas e controladoras que muitas vezes estruturam o ato de ensinar. Em seu pensamento, bell hooks afirma que ensinar é um ato político, e a sala de aula, ou, no nosso caso, o espaço da oficina, era um lugar onde todos deveriam se sentir convidados a falar, a pensar e criar com liberdade.
Quando nos vimos desafiados não apenas a aplicar um plano, mas a ouvir as crianças, seguir seus tempos, suas perguntas e seus olhares, entendemos que educar é criar um espaço em que o desejo de aprender não seja sufocado, mas cultivado, e isso não acontece em ambientes verticalizados, mas em comunidades de aprendizado, onde todos, inclusive os educadores, estão em processo.
A oficina tinha, em seu sentido real, o desejo de abrir mão do controle dos resultados e focar no processo. Queríamos que cada uma das crianças experimentassem criar e ser livres nesse criar. Foi nesse lugar que a oficina se tornou mais do que um projeto acadêmico, tornou-se um encontro transformador.
O que se revelou ali não foi apenas o território da Reserva, mas os afetos que o habitam, os vínculos que o sustentam e as histórias que muitas vezes passam despercebidas. Foi nesse gesto de devolver às crianças o poder de narrar, e a responsabilidade de escolher o que mostrar, que a oficina se tornou um processo de emancipação mútua.
Entendemos também que a extensão universitária, quando verdadeiramente comprometida com os territórios e suas gentes, não se limita à transferência de saberes acadêmicos. Ela se realiza quando há confluência, quando a universidade se permite aprender, desaprender e reaprender com os saberes daquele local, com os silêncios, com os gestos, com a escuta.
Ao voltarmos para a universidade, carregamos conosco não apenas registros fotográficos ou relatos de experiência, mas uma transformação no modo de compreender a educação, a extensão e o nosso papel enquanto formandos. Assim, a oficina se fez mais do que um projeto acadêmico. Ela foi encontro. Foi processo. Foi vivência. E, sobretudo, foi movimento. Partimos para ensinar – voltamos tendo aprendido. E talvez seja essa a maior lição: que os saberes não têm um único centro, e que, quando olhamos com as crianças, o mundo ganha novas possibilidades de foco, sentido e transformação.
Texto escrito por Enzo Soares
Revisador por Theresa Medeiros e Dana Mello
Como citar: SOARES, Enzo. Reserva em Foco: uma experiência de formação e extensão universitária em Diogo Lopes/RN. Observatório do Audiovisual Potiguar, 2025.
–
Referências
BAPTISTA, Liana Lobo. Montaulas: cenas de educação audiovisual com crianças. Repositório da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/items/d4d01a8a-0b6a-4b65-a9e2-1785104f1b36.
BERGALA, Alain. A Hipótese-Cinema: pequeno tratado de transmissão do cinema dentro e fora da escola. Tradução de Mônica Costa Netto, Silvia Pimenta. Rio de Janeiro: CINEAD/UFRJ, 2008.
BRASIL. Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014. Brasília, DF, 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13006.htm.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. 39ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1987.
FRESQUET, Adriana Mabel. Cinema e Educação: reflexões e experiências com professores e estudantes de educação básica, dentro e “fora” da escola. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013.
HOOKS, bell. Ensinando a Transgredir: Educação como Prática da Liberdade. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.
MIGLIORIN, Cezar; PIPANO, Isaac. Cinema de Brincar. Belo Horizonte, MG:
Relicário, 2018.
MIGLIORIN, Cezar, et al. Cadernos de Inventar: cinema, educação e direitos humanos. Niterói RJ: EDG, 2016
SANTOS, Antônio Bispo dos. A terra dá, a terra quer. São Paulo: Ubu Editora, 2023.
SANTOS, Boaventura de Souza. A Universidade no Século XXI: Para uma Reforma Democrática e Emancipatória da Universidade. 3ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.
SANTOS, Elba Pereira dos. Pedagogia da escuta: A participação das crianças no planejamento. Repositório da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2012. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/VRNS-9NKECC/1/pcc_final.pdf.

No Comments